- Asas à Prova do Sol
- Posts
- #14 — Estruturas e funções na literatura em prosa
#14 — Estruturas e funções na literatura em prosa
Em que comento pensamentos surgidos a partir do curso do Wilson Júnior e questiono quase tudo o que aprendi sobre literatura e escrita criativa.

Uma das minhas lembranças mais antigas da vida é do meu pai pegando alguns brinquedos e fazendo a voz deles, como se fosse um teatrinho. Sendo o irmão mais velho (e praticamente o neto mais velho nas duas famílias), morando em Belo Horizonte, a capital mineira — e em favelas nos primeiros anos de vida —, me acostumei a brincar sozinho. Por questões que hoje sei estarem ligadas ao transtorno do espectro autista, continuei a brincar sozinho por muito tempo. E esse jeito aí que meu pai me ensinou acidentalmente era meu jeito favorito: pegar meus bonequinhos, carrinhos e quaisquer brinquedos e criar histórias.
Na igreja posso ter desenvolvido bem cedo o interesse pela teologia, afinal, crianças sempre passam por aquela fase de mini-cientistas querendo explicações para tudo. Mas eu só tive algum interesse em buscar explicações nas autoridades eclesiásticas da igreja ali na infância porque, primeiro, me engajaram com histórias. Eram as contadas nas lições da escola sabatina (versões editadas para crianças de narrativas bíblicas) e também as que eu assistia nos desenhos animados bíblicos. Eu gostava muito mais do Antigo Testamento porque, nessa época, aquelas narrativas épicas me chamavam mais atenção do que as narrativas acerca de Jesus — que só se tornam realmente interessantes quando a gente passa a entender um pouco mais de fenômenos sociais. Minhas favoritas eram a de José (provavelmente por causa da interpretação dos sonhos), Moisés (definitivamente por causa do filme animado da Dreamworks, “O Príncipe do Egito”), e Davi se tornando rei (porque achava realmente épico toda a jornada fugindo de Saul até conquistar o trono).
As histórias faziam parte do meu dia-a-dia. Eu gostava de assistir desenhos animados na televisão e filmes de comédia, principalmente os do Jackie Chan. Um dos primeiros tipos de conversa que tive com colegas de escola era recontar cenas interessantes ou engraçadas dos desenhos e filmes que assisti. A gente revivia o sentimento de ter apreciado aquela história, mas dessa vez trocando as experiências. Eu reconto a cena mais engraçada de “A Hora do Rush” na minha opinião e meu amiguinho fala qual outra ele achou mais engraçada ainda, nós dois rimos muito só de lembrar. Era divertido.
Aprendi a ler com 5 anos de idade. No final da sala tinha aqueles livrinhos de dez páginas que, em cada página, só tinham umas três frases no máximo e o resto eram de desenho. Meu favorito era um livrinho chamado “Bicudo”, que contava a história de uma muriçoca (talvez você conheça como “pernilongo”) e que no final era morto por um humano. Eu ficava com pena do Bicudo, mesmo que odiasse muriçocas.
Foi com 5 anos também que aprendi a escrever. E nesses primeiros anos escolares, existia uma atividade que eu gostava muito: produção de texto. Envolvia pegar o que hoje sei ser um prompt — geralmente era o primeiro parágrafo de uma história, mas às vezes eram tirinhas sem diálogo — e escrever livremente o que a gente achava que aconteceria depois. Não demorou muito para eu descobrir que não precisava esperar a professora me passar uma atividade de produção de texto para escrever minhas próprias histórias.
Enfim, eu me consolidei mesmo como leitor aos 10 anos de idade (contei essa história na VAL) e decidi que seria escritor aos 11, mas as histórias fazem parte da minha vida desde sempre. E por isso hoje vamos falar sobre…

Embora eu tenha decidido ser escritor aos 11 anos, só aos 16 descobri que existia técnica literária e era possível estudar para escrever melhor. Na época, entretanto, o máximo que consegui foi descobrir o podcast 30 Minutos (onde ouvi Vilto Reis e Gustavo Magnani falarem sobre a tal técnica literária) e, influenciado pelas conversas que eles tinham dos livros, comecei a ler livros saíam do comum que eu lia na época (infantojuvenis e livros de aventura, basicamente). Um marcante foi o “Crônicas de uma morte anunciada”, do Gabriel García Márquez. Só li nessa época aos 16 e não consegui entender o que há de tão incrível no Gabriel García Márquez, mas eu me dediquei a tentar ler. Com isso descobri que admiro muito o trabalho do Machado de Assis em “Memórias Póstumas de Brás Cubas” (como você conseguiu fazer um adolescente de 16 anos rir quase 100 anos depois?), e “Dom Casmurro” — um dos primeiros livros que eu achei a prosa lindíssima.
Depois o Vilto Reis começou, em seu canal do youtube, fazer conteúdo de escrita. Assim descobri muito sobre Jornada do Herói, Estrutura em Três Atos, e um monte de outras coisas que eu já estava começando a tentar aplicar — nessa época, completamente sem sucesso.
Mas enfim, lá para os 20 anos de idade conheci outro podcast: “Os 12 Trabalhos de Escritor”, e nesse podcast tinha escritores dando dicas de criação. Aquilo foi uma pérola! (Obrigado, AJ Oliveira) e, através desse, conheci primeiro o podcast Gente que Escreve, do Fábio M. Barreto junto com Rob Gordon, onde eu tinha mais detalhadamente essa ideia de técnica de escrita; e depois a Revista Mafagafo, da Jana Bianchi, que tinha o Clube do Livro Mafagafo — ambiente do qual fiz parte.
Nesse meio tempo eu tive contato com uma pá de livros de escrita, blogs, troca de dicas, aulas gratuitas, e continuei a escrever. Ainda não tive coragem de investir dinheiro em publicar nenhum dos projetos que finalizei, acho que só tenho coragem de fazer isso em alguns projetos que ainda estão em andamento. Mas considero que aprendi bastante, acho que me tornei um escritor agora, aos 27 anos de idade.
Mesmo assim, tem muita coisa em aberto. Muita coisa que me incomoda. Muita coisa que eu tenho questionado. E como um dos motivos de eu ter criado essa newsletter é ter espaço para tirar esses questionamentos da minha cachola, vamos lá!
Sumário
Estruturas Narrativas e seus problemas
A primeira que aprendi foi a Jornada do Herói, aquela famosíssima que até citei outro dia quando planejei aqui A Lenda de Larzo. Nunca li o livro “A Jornada do Escritor”, do Christopher Vogler, que fez essa ideia popularizar, mas lembro-me de ter encarado ler “O Herói de Mil Faces”, do Joseph Campbell. Foi uma leitura sofrida, que começou interessante e depois degringolou, e estarei mentindo se disser que entendi tudo. Mas vai aí um resumo do que entendi na leitura e depois ouvindo outras pessoas comentarem:
Joseph Campbell pega mitos de vários povos ao redor do mundo, atravessando séculos e milênios, para chegar à conclusão de que todos os mitos tem a mesma estrutura. Como se fossem a variação de uma mesma história. Por isso o nome do livro é “O Herói de Mil Faces” e a teoria se chama “Teoria do Monomito”. A estrutura, ao ser apropriada depois para o cinema por Christopher Vogler, ficou conhecida como “Jornada do Herói”.
Mas, voltando ao Campbell, ele se fundamentou na psicologia analítica do Carl Jung, principalmente com a noção de “inconsciente coletivo”. E através disso explicou tudo.
Nessa época eu já fazia faculdade de psicologia e já achava a psicanálise um sistema teórico falho demais para ser confiável. Antes que me chamem de positivista em tom de xingamento, já vou avisando que não vou entrar em crítica à psicanálise aqui nessa newsletter de hoje. Ainda estou numa fase de “sei, mas não sei explicar” quando o assunto é criticar sistemas teóricos da psicologia, então preciso de mais tempo revisitando e aprendendo coisas em filosofia da ciência para entrar nessa brincadeira. O fato é que conceitos freudianos aplicados a literatura já não me convenciam bem nessa época (mesmo sendo tradicional nas faculdades de Letras), aí usar a dissidência da psicanálise com ar de esoterismo me deixou com pés mais atrás ainda.
O Ícaro dessa época achou a teoria do Campbell muito forçada. Mas o Ícaro dessa época ainda estava começando a estudar tudo e o pessoal que já tinha estudado seguia por esse caminho. Por isso o Ícaro dessa época pensou: “eu que não devo ter entendido direito, um dia entendo melhor”.
E eis que o escritor e professor de escrita Wilson Júnior — que já tinha me convencido do seu potencial enquanto saber escrever através do livro “999” (resenhei na VAL) — lançou o Curso de Ficção Histórica Decolonial no youtube. Daí na aula 3, ele diz algo que confirma aquela minha impressão: a teoria do monomito é forçada.
Os argumentos do Wilson são melhores dos que eu dava e dou conta de formular sozinho até o momento — e não precisou entrar em crítica à psicanálise. A metodologia do Joseph Campbell é que errou rude, não sua fundamentação (ou, ao menos, não apenas sua fundamentação). Primeiro porque o acesso a outros mitos se deu por fontes viciadas. Ex: quando missionários cristãos vão traduzir as histórias dos nórdicos, fazem aquela editada na recontagem para aproximar aqueles mitos da narrativa bíblica. Como alguém que esteve imerso na religião cristã por quase toda a vida, eu sei que até hoje existe essa tendência. Se a gente falar de semelhanças, daí é um pulo para argumentar que na verdade a narrativa bíblica (no singular) é a verdade absoluta, e o resto são distorções.
O outro problema do Campbell é uma desonestidade na proposta. Ele não analisa as histórias como elas são para mostrar como existe uma estrutura básica que se repete. Ele escolhe deliberadamente uma seleção de elementos em cada história — com critérios de seleção dúbios e subjetivos — e, convenientemente, mostra como esses elementos são semelhantes. Eu também poderia fazer uma seleção de elementos de todas as histórias que eu gosto para provar que são iguais e depois vender a ideia da existência de Histórias Padrão Ícaro. Isso não tem muita validade científica.
E com base nessa detonada na Jornada do Herói, o Wilson detonou MUITO com a ideia de estruturas literárias. Resumindo a ideia: uma estrutura seria uma espécie de esqueleto básico para você montar a história em cima. Por que usar esse esqueleto pronto? Para garantir que a história seja boa.
Eu já vi várias: a em três atos, já citada; a em sete pontos do Fleatag (li no Wonderbook); a kishotenketsu… E no vídeo o Wilson ainda citou um monte de outras que eu nunca nem vi. Elas tem uma aplicação prática sim. A dos três atos foi uma observação do Aristóteles das tragédias gregas, então eu diria que ela serve para imaginarmos como as tragédias gregas eram estruturadas — pelo menos como o Aristóteles percebia essa estruturação. A kishotenketsu, do Japão, serve muito como filosofia de criação de arte (não apenas histórias, inclusive). E dentro de um mercado de audiovisual, com limitações de orçamento e de tempo, elas foram úteis para criar um padrão vendável e executável em lógica industrial — que embora seja uma ideia bem broxante, pelo menos garante alguma remuneração para artistas que precisam se enfiar na indústria. Isso aí, infelizmente, só acaba com o fim do capitalismo. Que acabe o capitalismo para libertarmos a arte da lógica de mercadoria.
Literatura é mais complicado. Ok, na ficção em prosa podemos até pensar numa métrica em que escolher a estrutura faça sentido: 10 mil palavras para a apresentação, 35 mil palavras para o desenvolvimento, 5 mil palavras para o desfecho. Seria um experimento interessante, pensar como um poeta, escolhendo as frases e palavras que comunicam o suficiente dentro dessa limitação autoimposta. Válido, eu não jogaria fora. Porém, a prosa costuma funcionar mais com uma lógica de verso livre. Você quer contar uma história e não necessariamente segue uma métrica para fazer isso.
Certo, há editais de literatura que pedem um tamanho específico para a história. Mas não estou falando de mercado em si, mas só da parte criativa mesmo.
Então, na prática, quando vamos escrever uma história seguindo qualquer uma dessas estruturas, não seguimos ponto-a-ponto a estrutura. A gente na prática muda muito de ideia no ato de criar e sai totalmente da estrutura. Então pra quê essa estrutura? Foi o argumento principal do Wilson e, caramba, eu concordo.
Eu poderia falar do experimento História de Fantasia Genérica. Claro que a maior motivação para o hiato em que se encontra essa história se deu pela mudança de estado, ainda estou organizando minha nova vida aqui, com novos horários e em uma nova casa. Mas algo muito notável para mim é o fato de que seguir aquele planejamento inicial estava chato demais. Nem eu estava gostando da história, daí estou enveredando por um caminho alternativo que praticamente inutiliza a estrutura pré-montada.
Entretanto, o melhor exemplo no momento é meu experimento de uma história numa escola de magia. Eu queria emular um anime shonen no tipo de história e por isso fui pesquisar a estrutura kishotenketsu, uma estrutura japonesa que trabalha as expectativas dos leitores. O texto se dividiria em quatro momentos:
Ki → Apresentação. Introduzimos os leitores ao cenário, personagens, e aí eles podem criar suas expectativas sobre como a história vai continuar.
Sho → Desenvolvimento. É um seguimento lógico da apresentação, o que consolida e potencializa as expectativas geradas.
Ten → Reviravolta. Quebramos a expectativa gerada com algo que não seria um desenvolvimento lógico do que está acontecendo até aqui, o que causa tensão.
Ketsu → Desfecho. Conectamos novamente a reviravolta ao desenvolvimento da história que estávamos escrevendo, o que alivia a tensão.
Se você quiser saber mais sobre isso, recomendo este vídeo aqui do canal Narrativando. Para o que eu quero dizer aqui, basta saber que as editoras de mangás no Japão impõem limitações criativas aos seus mangakás e existe até uma tabela de “tantas páginas para o ki, tantas páginas para o sho” e assim por diante. Boku no Hero Academia é um exemplo que segue rigorosamente essa estrutura, pelo menos nos primeiros capítulos, e aí serviu de inspiração para este meu experimento.
Fiz uma primeira versão seguindo isso da mesma forma. Ficou legal? Ficou. Passei para dois amigos lerem e os feedbacks, num geral, foram positivos. Continuariam lendo a história sim, na verdade queriam até saber o que acontece depois. Porém, um deles, deu um feedback mais completo, dizendo que para uma história jovem tinha muitas cenas que soavam infodump. Explicações sobre a história daquele mundo e sobre a magia que, para determinados públicos, não incomodaria, mas para um público jovem seria mais legal ver em cena — além de abrir mais espaço para mostrar o relacionamento entre Leonardo, o protagonista, e a Nyx, que não estava claro: é um crush reprimido? É uma rivalidade? (spoiler da ideia: é como se o Leonardo fosse o Naruto e a Nyx o Sasuke. Se você não conhece Naruto, deixa para dar uma lida na minha história mesmo depois).
Com base nesses feedbacks reescrevi. A própria reescrita desse primeiro capítulo já soou bem mais divertida para mim. Mudei os cortes de cena, o ponto de início, explorei mais os relacionamentos entre os personagens, e até dei um jeito de inserir mais elementos estéticos na magia para parecer impressionante. Ainda segui a filosofia por trás do kishotenketsu, mas decidi por mim mesmo como apresentar, o quanto desenvolver, o que fazer pra lidar com a construção de expectativas, como quebrar as expectativas e como resolver a questão. Na prática, saí totalmente da estrutura, só fiz do meu jeito.
O resultado foi esta segunda versão, um pouco maior. O importante é que funcionou muito mais. Não fui só eu quem me diverti mais com a história, mas meus amigos também. Minha esposa adorou. Ela até me ameaçou me colocar para dormir no colchão inflável (não temos sofá ainda) caso eu não continue a escrever.
Essas experiências tem mostrado que encucar com uma estrutura pode, na verdade, limitar demais o potencial da história. E nem é uma questão de “saiba as regras para poder quebrá-las”, o que é necessário aqui é ter noção de início, meio e fim, noção de aumento, estabilização e diminuição da tensão. Quanto mais histórias nós conhecemos, melhor a gente fica.
Foi basicamente isso que o Wilson defendeu na aula sobre estruturas literárias e eu tô concordando muito. Mas daí me lembrou de uma outra abordagem que também vi nesses anos vendo conteúdo de escrita criativa.
Funções narrativas e seus problemas
Ao contrário das estruturas que todos chamam de estruturas, aqui não vi ninguém falar a palavra funções. Não é como o estruturalismo vs funcionalismo que a gente vê nas ciências humanas todo mundo falar sobre, nem uma apresentação de Literatura Funcional como é a Harmonia Funcional em música. Mas a lógica é a mesma.
Em vez de buscar uma estrutura literária replicável, um esqueleto, vai vir um pensamento de elencar a função dos elementos da história. Não sei se posso colocar a noção de unidade de efeito do Edgar Allan Poe nessa linha (porque vi muita gente falando sobre, mas nunca li os textos do Poe acerca deste conceito), mas eu colocaria toda a filosofia do Brandon Sanderson aqui (além de ouvir vários episódios do podcast Writing Excuses, também assisti as lectures que ele dá na BYU).
Vou pegar como exemplo as Três Leis da Magia do Brandon Sanderson, que seriam uma sistematização de como escrever magia na literatura de fantasia.
Primeira Lei: A capacidade de um autor em resolver conflitos usando magia é diretamente proporcional a capacidade do leitor em compreender tal magia.
Segunda Lei: Limitações da magia são mais interessantes que os poderes em si.
Terceira Lei: Expanda o que você já possui antes de criar algo novo.
Lei Zero: Sempre priorize o que é mais legal.
Pois é, com essa Lei Zero ficam quatro leis, mas aposto que ele só deu o nome de três leis para parecer as três leis de Newton.
Se a gente parar para analisar essas leis, ele está dizendo “faça isso porque terá tal efeito”. As leis da magia não são uma teoria da magia ficcional, e sim sobre a função do elemento ficcional “magia” dentro da literatura. É uma previsão da reação dos leitores e uma sistematização de o que fazer para gerar essas reações. Nesse sentido, todo elemento literário teria uma função e dentro dessa perspectiva funcional, nosso papel seria mapear essas funções para usarmos no processo de criação literária.
Isso aparece em quase tudo o que vi do Brandon Sanderson. Falando de montar enredo, ele traz a ideia de promessas, progresso e recompensas (originalmente: promises, progress and payoffs). No início da história a gente faz uma promessa pra gerar expectativa, como o protagonista vai derrotar o rei-demônio. Daí no desenvolvimento a gente vai progredindo essa expectativa, mostrando o treinamento do protagonista para derrotar o rei-demônio e as dificuldades dessa empreitada. Aí os leitores ficam presos pelas próprias expectativas. Será que vai dar certo? No final, entregamos a recompensa: protagonista derrota o rei-demônio, ou quebramos a expectativa para entregar algo não esperado, mas mais satisfatório, como o protagonista descobre que o rei-demônio é seu melhor amigo ou o protagonista se apaixona pelo rei-demônio ou o protagonista descobre que o rei-demônio, na verdade, está salvando o mundo.
Falando de montar personagens, ele traz técnicas como escalas variáveis: personagens tem níveis de carisma, proatividade e competência; cada variação desses níveis ao longo da história (ou estabilidade deles) traria uma visão diferente dos leitores acerca dos personagens e um efeito na história em geral.
Falando de gêneros literários, ele traz as noções de gêneros elementais e arquétipos de plot. Então em vez de dizer “fantasia, mistério, romance”, ele vai trazer a ideia de “maravilhamento, humor, horror” e pensar em coisas como: se o gênero elemental é maravilhamento, é importante trazer comparações entre objetos da história que são absurdas. Tipo em Star Wars que os personagens estão em uma nave grande e daí perguntam: “O que é aquela lua?” e descobrem que não é uma lua, é uma arma colossal, a Estrela da Morte. Isso daria a sensação de “uau”, maravilhamento, espanto. Fantasia e ficção científica usariam muito isso.
Ok, eu acho essa lógica muito mais útil que as estruturas. Mas também não acho ela perfeita. Esse funcionalismo parece pragmático demais. Certo, observamos que tais elementos geram tais reações, mas por que isso acontece? A pergunta “por quê?” não costuma ser respondida satisfatoriamente nessa linha de raciocínio. É só um “parece estar dando certo, então vamos fazer”. O resultado são histórias que podem até ser muito divertidas, mas soam muito vazias. A sensação é a de comer um pastel de vento: a massa é gostosa, mas cadê o recheio?
Vou exemplificar com uma série de livros do próprio Brandon Sanderson: o Ciclo Citônico. Para ser sincero, eu só li os dois primeiros, “Skyward: Conquiste as Estrelas” e “Starsight: Vá além das estrelas”, porque o terceiro e quarto livro (tem quinto?) não tiveram tradução em português ainda. (Eu li de graça na BibliON, fica a dica).
Eu gostei dos livros? Sim, mas não por causa dos elementos funcionais que o Brandon Sanderson inseriu usando a própria filosofia. Na verdade, a ênfase exagerada nesses elementos funcionais foi o que há de ruim nos livros.
Antes de exemplificar, vou falar um pouquinho da história. É uma ficção científica em que a humanidade está presa num planeta chamado Detritus (porque é rodeado de detritos espaciais), vivendo numa sociedade subterrânea enquanto sofrem ataques constantes de alienígenas desconhecidos chamados Krell. A sociedade humana é muito militarizada baseada em méritos. Quanto mais méritos, mais alta sua posição social. Quanto menos, mais baixa. Spensa, a protagonista, é quase uma indigente de tão poucos méritos que possui, mas quer fazer parte das Forças Desafiadoras de Defesa, pilotar naves para combater os Krell. Aí a gente acompanha a saga dela para se formar como pilota.
Mas enfim, vamos falar dos problemas: seguindo uma técnica que o Sanderson ensina em suas lectures, ele ressalta uma característica de cada personagem para facilitar a identificação deles por parte dos leitores. Daí temos essa personagem cujo codinome é FM, que está sempre questionando o sistema social que eles vivem. Essa é a característica marcante da FM, ela é a guerreira da justiça social.
ACONTECE QUE a FM tem um ponto muito bom. Por mais que todas aquelas pessoas estejam vivenciando situações limite numa guerra onde eles tem a desvantagem, por que a sociedade precisa ser tão fascista? (e é fascista mesmo, parece até heinleinismo cultural isso aqui. E já aviso que defender o livro “Tropas Estelares” na minha casa é sujeito a paulada, pois Heinlein fascistou pra um caralho nesse livro. Agora o filme do Paul Venhoevern tá liberado, filmaço tirando onda).
Através dos questionamentos da personagem, o Brandon Sanderson tinha a oportunidade de aprofundar conflitos sociais que afetam até mesmo a jornada da protagonista (sério, a Spensa é injustiçada desde a página 1 desse livro). Mas ele manteve tudo no superficial porque só pensou em como dar personalidade aos personagens.
Outra coisa é o tema. O tema que o Brandon Sanderson escolheu foi livre arbítrio, e realmente vai aparecer esse conflito de alguns personagens parecerem ter o destino traçado, perderem a capacidade sobre suas próprias ações, e o Brandon Sanderson quer defender que existe sim livre arbítrio.
Porém, de novo, esse tema é trabalhado de forma superficial. É basicamente um mergulho intrapsíquico não tão bem explicado (até agora) dos personagens para superar esse aspecto que parece “controle mental” para depois dizer: olha só, pessoas tem livre arbítrio. Mas, com base no próprio cenário apresentado, daria para fazer perguntas como: é mesmo? E o quanto de livre arbítrio as pessoas tem nesse sistema que gera privação de necessidades? Tem uma contradição social gritante aí e o livro não vai nos mostrar o desenvolvimento disso?
Então todas as técnicas empregadas pelo Brandon Sanderson parecem ter desviado a atenção dele do que realmente importa ali: a história. Eu gosto muito de ver o desenvolvimento do relacionamento entre a Spensa e os outros personagens enquanto ela descobre o que está acontecendo nesse mundo, e essa é justamente a parte que parece ter surgido de forma mais acidental, na conexão entre uma aplicação de técnica e outra. Se o Brandon Sanderson desapegasse da ideia pragmática de elementos funcionais da história e pensasse nas questões que a própria história faz surgir, tenho a impressão de que esse seria um livro muito melhor e ainda mais divertido.
E agora, José?
Retomando o que o Wilson Júnior trouxe em sua aula, a solução sugerida e reiterada é a criação de uma massa crítica de literatura. Para escrever melhor, é necessário ler mais, conhecer mais histórias. A gente vai acumulando essa experiência e essas referências e daí consegue pensar em histórias em níveis cada vez melhores.
É realmente um excelente caminho, é inclusive um caminho incontornável. Vale dizer que concordo com o texto da Coral Daia na VAL dizendo que “A leitura é o estudo mais importante para quem escreve”. Também penso que faz sentido pensar na contação de histórias como comunicação, como conversa, como expressão. Histórias não seriam conversas do mesmo tipo que essa aqui ou diálogos que você tem na rua, seriam uma categoria própria, assim como defende Ursula K. Le Guin em seu ensaio “Uma mensagem sobre mensagens”. Sem ouvir, ler, ver e viver histórias, é difícil contar histórias.
Mas confesso que eu ainda gosto de teorizações e vou acabar terminando este texto com anticlimáticos pontos de interrogação. Sem descartar a importância de conhecer histórias e formas de contar histórias (afinal, a literatura surge primeiro e a teoria literária vai surgir depois), como poderíamos pensar a criação literária?
Das estruturas acho que ainda podemos aproveitar testes de métrica em prosa (com essa intencionalidade mesmo) e talvez abstrair escolas de pensamento artístico por trás delas. Bastaria tirar delas o status de universais e fazer a pergunta: por que esses pontos de inflexão e nessa ordem? Há muitas outras maneiras de fazer “início, meio e fim”, por que usar essa maneira? A resposta deve dar coisas para pensar.
Quanto aos elementos funcionais na literatura, as perguntas são parecidas. Acho forçado dizer que são universais, que um elemento terá a mesma função na reação dos leitores em qualquer época ou lugar (num mesmo lugar e numa mesma época já deve haver uma variação que não poderia ser desconsiderada). Mas, se no geral, observamos que as leis da magia funcionam, temos que perguntar: por que elas funcionam? O que as fazem funcionar? Isso também nos daria um leque maior de criação

Goodreads. Depois de toda essa conversa sobre livros, acho que o melhor é deixar uma recomendação de leitura. (Lembrando que já resenhei a parte 1 da duologia aqui)
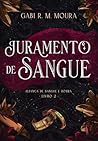 Juramento de Sangue: Duologia 'Aliança de Sangue e Honra' - Livro 2 by Gabi R.M. Moura
Juramento de Sangue: Duologia 'Aliança de Sangue e Honra' - Livro 2 by Gabi R.M. MouraMy rating: 5 of 5 stars
Aliança de Sangue e Honra havia sido o melhor livro que li em 2023, mas Juramento de Sangue conseguiu superá-lo.
É um calhamação em que Gabi nos prova que aquela convenção de "romance só é interessante enquanto o casal não está junto" é falso. Tem uma série de conflitos que eles precisam resolver agora que estão juntos. Foi muito satisfatório ver Cecília e Calisto amarrando todas as pontas soltas deixadas pelo primeiro livro enquanto ainda pensam como vencer uma guerra e lidar com uma série de conflitos familiares.
Uma inovação de Juramento de Sangue em relação a Aliança que eu gostei é a expansão da nossa visão do mundo. Vemos novos lugares, conhecemos novas pessoas, entendemos um pouco mais dos pensamentos culturais, e aquelas passagens nos interlúdios foram maravilhosas.
Continua entregando fantasia, romance e livros de máfia na medida certa. A batalha final foi excelente também.
View all my reviews
Enfim, fico por aqui. Até semana que vem.
Reply